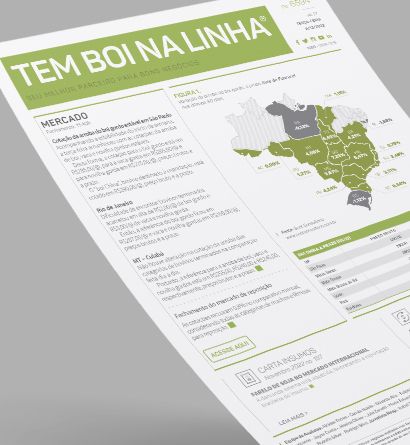Pastagens des-graduadas

Foto: Shutterstock
Recentemente, ouvi uma boa piada sobre engenheiros: enquanto o otimista vê o copo meio cheio e, o pessimista, vê o mesmo copo como meio vazio, o engenheiro pergunta com certa indignação: “Por que usaram um copo que é o dobro do volume necessário?”
De certa forma, para tudo o que falamos, seria bom ter a acurácia e precisão do ramo da engenharia. Contudo, não é de todo incomum usarmos termos no dia a dia como definitivos, mas que, uma vez desafiados a conceituá-los, aquela falsa certeza se desmancha no ar.
Um dos melhores exemplos, talvez, seja como definir uma pastagem degradada. A trajetória de uma pastagem produtiva para uma pastagem degradada é um contínuo, sem que haja marcos destacados separando uma condição da outra.
Apesar disso, diagnosticamos que haveria uma grande área de pastagens, “com algum grau de degradação”. Trata-se, portanto, de uma delimitação bem vaga, para um termo, por si só, vago. Isso traz grande confusão para tratar do problema.
Em função das metas do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD) e da criação taxonomia sustentável brasileira, aumentou-se a urgência para haver conceitos mais reais e robustos dos diferentes estados que uma pastagem pode apresentar. Além disso, essas fases precisam de marcos, determinados por indicadores, preferencialmente de fácil obtenção e que sejam mensuráveis, reportáveis e verificáveis (MRV). Exemplos de indicadores de estado de uma pastagem seriam o grau de cobertura vegetal, a porcentagem de área coberta com presença de plantas indesejadas, existência de erosão etc. Por fim, devem ainda, mesmo que com algum ajuste ou processamento, poderem ser usados pelo sensoriamento remoto, o que permite avaliação em larga escala, algo que faz toda diferença para o sucesso de uma política pública ou para uma ferramenta que estimula investimentos em práticas sustentáveis.
Com esse intuito, na segunda semana de março, foi realizada a Oficina sobre Conceitos e Indicadores para Diagnóstico e Monitoramento de Pastagens nos Biomas Brasileiros, na Embrapa Meio Ambiente. Foi reunido um grupo de pessoas com larga experiência no tema, e com uma grande diversidade de visões sobre o problema, de forma que representasse, na medida do possível, uma proxy da integralidade dos interesses da sociedade no assunto. Por três dias, esse grupo se debruçou sobre o tema.
Houve importantes palestras de nivelamento sobre degradação de pastagens e sensoriamento remoto, além dos resultados de um belo trabalho por uma colega da Embrapa especialista em Letras, a Milena Teles, que trouxe os conceitos-chave, usados como ponto de partida dos trabalhos, conforme abaixo:

Sem a pretensão de explicar os detalhes, segue, à grosso modo, como o trabalho foi realizado. A partir dos conceitos-chave acima, os grupos foram divididos por bioma para tentar chegar a um indicador, e seus valores, para uma forrageira, sendo que ambos podiam ser escolhidos à vontade. O desafio do grupo era estabelecer valores que indicariam, pelo menos, um valor do indicador acima do qual a pastagem seria considerada “boa” e que, portanto, valores inferiores indicassem o início do processo de degradação e, pelo menos, outro valor que demarcaria o limite a partir do qual a pastagem poderia ser considerada degradada, ou seja, uma pastagem que precisa de uma intervenção de reforma (quando se mantém as plantas forrageiras existentes) ou renovação (quando se faz uma nova implantação). Entre esses dois valores, poderiam ser feitas situações intermediárias. Os membros do grupo do Cerrado, por exemplo, do qual tive a honra de ser um dos relatores, acharam por bem fazer um marco adicional entre os dois acima, deixando uma faixa intermediária entre a “boa pastagem” e a qual se inicia a degradação. Retornaremos a esse ponto mais à frente, em “reflexões”.
Em seguida, foi proposto o desafio de mostrar que os indicadores escolhidos e delimitados para a forrageira escolhida poderiam ser adaptados às outras forrageiras, para o qual foi feito um novo exercício.
Então, os grupos representando os seis biomas (Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia) se reuniram para mostrar seus resultados e percebeu-se haver uma boa convergência das ideias e, portanto, que muito do que se fez nos grupos pode ser aproveitado por mais de um bioma, desde que feitas devidas adaptações para cada caso em particular.
Em paralelo aos grupos de bioma, havia um outro grupo com especialistas em sensoriamento remoto, discutindo os desafios da avaliação remota de pastagem por imagens. Nas “plenárias”, ao longo da oficina, houve, então, a interação deles com os demais participantes, na sua maioria especialistas em pastagens. Foram muito ricas as trocas de ideia e ficou claro que apesar dos avanços e das ferramentas poderosas que já temos, elas ainda têm limitações para as quais deve-se sempre procurar considerar para não cometer injustiças com seu uso. Foi mostrado que os grupos brasileiros de sensoriamento remoto estão gerando novas formas de avaliação que certamente ajudarão muito que seu uso com pastagens seja mais assertivo.
Acima de tudo, ficou exposto que há uma possibilidade de evolução muito grande para fazer com que as ferramentas de sensoriamento remoto se tornem muito mais acuradas em identificar o estado das pastagens. O principal gargalo é a necessidade de uma grande quantidade de dados de campo para validar as imagens. Assim, coordenar os esforços, que hoje ocorrem de forma pulverizada para disponibilizar essa massa crítica de informação para gerar modelos eficazes e robustos para a interpretação dos resultados de sensoriamento remoto, é o caminho. Nos próximos passos do fórum que foi criado pela oficina, isso deve ser buscado com fervor por todos os envolvidos.
Algumas boas reflexões a destacar
Assim como no caso do copo pela metade, no caso da pastagem degradada, há gente que a vê no “modo meio cheio” ou no “modo meio vazio”, conforme seus interesses. Por um lado, elas são uma oportunidade de recuperação ou conversão para outros usos, com benefícios produtivos e ambientais. Já por outro, denotaria um passivo ambiental decorrente da nossa incapacidade coletiva e, nessa linha, pode ser (e é) usada por nossos competidores no mercado de proteína animal global, tirando proveito da subjetividade do termo e usando da maneira mais elástica possível.
Antes mesmo da reunião, um colega e amigo, que é consultor sênior na área, José Ultímio Junqueira Jr., já tinha compartilhado sua implicância com o termo, com um argumento bastante interessante que ele compartilhou com todos em uma das plenárias, segundo o qual ninguém chama um campo de soja produzindo 20 sacas por hectare de “soja degradada”. Para não ficar apenas nesse bom argumento, copio uma manifestação pública dele nas redes sociais, sobre ter notado um entendimento bastante diverso sobre o conceito de "degradação" de pastagem na oficina: “Considero o termo (pastagem degradada) totalmente inapropriado e cheio de vieses, já que em toda minha vida profissional, nunca encontrei uma pastagem que não tivesse condição de ter o processo de perda de produtividade revertido, com medidas simples de adequação, principalmente, do manejo do pastejo.”
Já o meu caro colega Geraldo Martha Jr., da Embrapa Agricultura Digital, que foi um dos palestrantes do nivelamento, também fez comparação entre a pastagem e outra produção agrícola, a cana-de-açúcar. No caso, ele lembrou que essa cultura é implantada e são feitos cortes ano a ano, com perda de produção e que, quando fica abaixo de determinado nível, é feito um novo plantio. Neste intervalo de anos até a renovação do canavial, não se pode dizer que a cana está em degradação, pois essa redução faz parte de como a cultura funciona. Assim, uma boa parte do que, hoje, muitos colocam como “em degradação” para as pastagens seria apenas uma zona aceitável de variável produtividade que o produtor pode usar dentro de uma estratégia para gerir de forma mais conveniente seus recursos. Na pecuária, na qual o preço do produto é determinado pelo mercado, independente dos custos do produtor, isso parece fazer bastante sentido.
Muito pelo exposto acima que, o grupo do Cerrado, decidiu que não deveria ter apenas um ponto inicial para delimitar “em degradação” e o ponto final que determinaria a pastagem degradada, passando de três níveis para quatro. O primeiro nível, portanto, seria a melhor situação possível de um pasto, sem necessidade de nenhuma intervenção e, o segundo, o pasto na fase “tampão” entre o ideal e o início da fase de degradação. As fases se completariam com o “pasto em degradação” e “pasto degradado”. Aqui o título deste texto se justifica: o nosso maior problema é a falta de graduarmos o estado das pastagens. A solução para a definição de pastagens degradadas passa por resolver o problema de as pastagens serem des-graduadas.
No caso do pasto degradado, houve uma certa convergência que deveria ser encarado como aquele pasto provavelmente sem chance de ser reformado (mantida as plantas originais) e que, portanto, para voltar a ser pasto necessitaria ser renovado (reimplantado, em geral com outras forrageiras) ou convertido a outro uso, seja para uso agrícola (culturas agrícolas e florestas plantadas) ou para se tornar uma área reflorestada. Muito desse conceito de não poder ser mais recuperado decorre da economicidade do processo por meios convencionais. Isso abre oportunidade para técnicas alternativas, como o caso do uso de leguminosas na recuperação, o que não foi discutido na oficina e que, na verdade, é só mais um exemplo da complexidade e o número de camadas que podemos colocar a mais nesse tema.
Considerações finais
Esse foi apenas um relato de um participante coadjuvante, não especialista em pastagens, mas foi um evento em que houve muita competência e inteligência da coordenação técnica da minha colega de unidade, Patrícia Menezes dos Santos. Posso dizer o mesmo da equipe facilitadora contratada (https://conectividades.eco.br/).
Um grande mérito foi criar um ambiente que incentivou haver um grande esforço coletivo, mesmo com uma grande diversidade de atores com visões distintas (e, por vezes, antagônicas). Uma grande sorte foi contar com uma legítima resposta de cooperação dos participantes para conseguir evoluir com um assunto tão complicado e chegar um ponto além do que estávamos antes.
Ainda falta uma considerável caminhada, mas um primeiro grande passo foi dado ao mostrar ser possível gerar um modelo que nos tire do limbo. O trabalho vai seguir e esperamos que, no tempo certo, tenhamos os protocolos que permitam um eficiente uso da política pública do PNPCD e as promessas de maiores investimentos no setor pela taxonomia sustentável brasileira.

Sergio Raposo de Medeiros
Engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. É pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e especialista em nutrição animal com enfoque nos seguintes temas: exigência e eficiência na produção animal, qualidade de produtos animais e soluções tecnológicas para produção sustentável.
Últimas notícias
Entrevista
Newsletter diária
Receba nossos relatórios diários e gratuitos